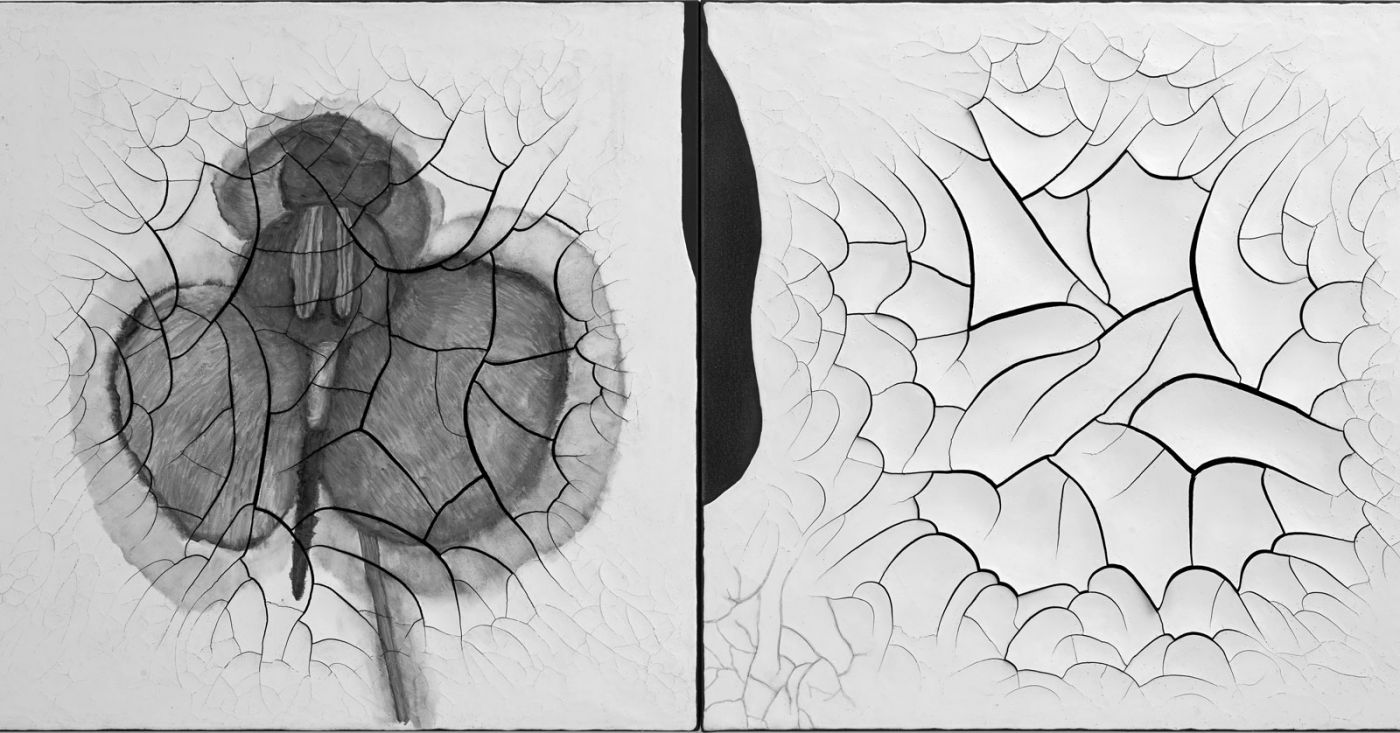Laura Verissimo de Posadas[**]
Introdução
Quando as palavras tremem e oscilam diante da página em branco e diante do escuro emaranhado dos pensamentos, os poetas nos vêm em auxílio.
Sem perceber, segui a exortação de Freud para recorrer a eles.
Circe Maia (2007) vem com versos que dão título a este percurso. Tatiana Oroño (2017), com suas palavras, revela-me um dos meus motivos para essa tentativa: “Escrevo o que aconteceu para que aconteça algo que mude o que está acontecendo”.
Escrevemos para dar tempo e espaço à perplexidade e à impotência, para desemaranhar sentimentos e questionamentos, isso que assedia e exige outro destino além da repetição e do desconforto.
Às vezes, é a partir de um encontro ou conversa fortuitos que se começa a delinear um caminho de escritura, um caminho a percorrer que não se sabe nem aonde vai levar, nem por quais geografias terá que passar ou quão trabalhoso ou agradável pode ser. Ainda menos se sabe que “coisa” própria, não conhecida nem pensada, encontrará nas letras seu primeiro balbuciar, ou alcançará palavras, sempre precárias, sempre insuficientes. O dilema que surge é desertar antecipadamente, distrair-se – daquilo que assedia e da angústia que se aproxima – ou arriscar-se.
O gatilho deste trabalho, seu resto diurno, foram cinco palavras “Eu me analisei com Helena [Besserman Vianna]”.
Acredito que somente no final deste texto, tanto o leitor quanto eu mesma poderemos entender apenas algumas das razões do poder que essas palavras tiveram sobre mim.
Conhecia o nome de Helena Besserman Vianna desde a década de 70, quando os países latino-americanos iam caindo sob as ditaduras militares que cooperaram entre si com a sinistra Operação Condor. Guardo a imagem de uma lutadora solitária, respeitada por muitos – acusada e ameaçada por outros – por sua coragem durante a ditadura brasileira (1964-1985), um governo militar que violou a Constituição, como fizeram as outras ditaduras latino-americanas, e substituiu a legalidade constitucional por uma “legalidade própria”: os Atos Institucionais. Suprimiu, assim, direitos e garantias dos cidadãos, e perseguiu, torturou e fez “desaparecer” os opositores.
Aquelas cinco palavras, escutadas em um clima de afetos e histórias redescobertas, despertaram meu desejo de saber como era Helena em sua prática no consultório, como era sua escuta, como era sua maneira de posicionar-se como analista. Ao mesmo tempo, ocorreu-me que seu “caso” pode lançar luz e reflexão a respeito do entrelaçamento – inevitável – entre o analista e sua prática com o ambiente sociocultural no qual a exerce.
Propus a mim mesma explorar tanto seu compromisso com a causa dos Direitos Humanos quanto seu compromisso com a “causa” da psicanálise. Não tenho a intenção de delinear uma nota biográfica pessoal, mas, através das vicissitudes de sua épica, analisar problemas atuais.
Estou particularmente interessada em identificar características contemporâneas dos comportamentos sociais e, em particular, o modo pelo qual as instituições analíticas e aqueles que as integram são por eles permeados nesta era chamada de pós-verdade, com seus relatos, seus modos “líquidos” de relacionamento, a lassitude de atitudes e práticas – cuja avaliação parece estar limitada à medida do sucesso sem consideração dos meios para obtê-lo – e as formas de exercer as responsabilidades públicas que testemunhamos hoje. Uma vez que parece impossível para nós estarmos imunes, deveríamos investigar até que ponto essas características também moldam as instituições analíticas. Essa preocupação faz a dimensão ética da nossa prática, tanto com nossos analisandos e com os nossos colegas – e aspirantes – quanto em nossas formas de relacionamento com o meio.
Como sabemos, as características salientes de cada época são reveladas pela fala. Os lugares-comuns e os fragmentos da nossa sugerem – e conduzem – à banalização do conflito (“tudo bem”, “isso deve ser esquecido”), como se a arte da política fosse a negação – necessariamente mentirosa – do conflito, e não a busca de maneiras de superá-lo. Também promovem a anulação da aflição ou do impacto (“tranquilo”, “nada tem problema”) ou estratégias de dissolução da responsabilidade (“para o bem ou para o mal”, “assim como te digo uma coisa, te digo outra”).
Tanto que, em sua atualização de 2017, a Real Academia Espanhola inclui, entre outros novos termos, o de pós-verdade (“Distorção deliberada de uma realidade, que manipula crenças e emoções com o fim de influenciar a opinião pública e as atitudes sociais. Os demagogos são mestres da pós-verdade”). Também inclui o substantivo buenismo (“Atitude daqueles que, diante de conflitos, reduzem sua seriedade, cedem com benevolência ou agem com excessiva tolerância”).
Não só nos acostumamos com essas expressões, elas moldam nosso pensamento e nossa ação: não questionar, não reagir parece ser o lema da correção política. Somos levados, assim, a uma perda de reflexos, e nos apassivamos por esse discurso. Sem perceber, resignamo-nos a ser colaboradores eficazes e cúmplices, tanto pelo silenciamento de algo que deve ser dito em voz alta, como pela falta de reação a procedimentos que contornam normas que sustentam o vínculo de grupo, normas cujo valor está em sua função regulatória e seus efeitos “pacificadores” das inevitáveis tensões e conflitos em todos os agrupamentos humanos.
“Há momentos em que calar é mentir”[1]
Dizia, no início, que escrever é tomar um caminho que não se sabe para onde leva.
Neste caso, já tinha os personagens principais: Helena, como Antígona moderna; seu colega psicanalista – ainda que de outra sociedade –, Leão Cabernite, analista didata de um médico e candidato a psicanalista, membro da equipe de tortura do Exército, Amílcar Lobo; a instituição de pertencimento de Cabernite e Lobo (Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, SPRJ); a instituição de Helena (Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, SBPRJ) e a Associação Psicanalítica Internacional (IPA, por sua sigla em inglês).
No entanto, atravessou-me, levantando a voz de uma espessa camada de silêncio e esquecimento, outra mulher. Ela é uma judia alemã, filha do psiquiatra de orientação freudiana e militante socialista Dr. Heinrich Stern, que após ser preso pela Gestapo e libertado alguns dias depois, emigrou para a França com sua esposa e sua filha, Anne-Lise. Eles se estabeleceram em Blois. Quando os alemães tomaram Paris, tiveram que fugir para a zona livre, mas, em 1942, com a ocupação, Anne-Lise, que teve que se esconder com uma identidade falsa, foi denunciada como judia e detida em 1º de abril de 1944. Foi deportada para Auschwitz-Birkenau e depois transferida para outros campos de extermínio nazistas, “esse buraco negro, esse anus mundi”[2] (Stern, 2004), “o inferno”, “fora do mundo”, onde “não é mais possível [pensar]; é como se estivéssemos mortos” (Primo Levi, 1995, p. 20)[3].
Depois da capitulação alemã, no verão de 1945, de volta à França, foi recebida em Lyon pela Cruz Vermelha, quando tinha apenas 24 anos. É muito comovente o seu relato, em “O tempo das cerejas” (Stern, 2004, p. 301), sobre a reunião com seus pais, que ela acreditava que estavam mortos: “para todos nós todo mundo estava morto, então meus pais também […]. Eles foram capazes de escutar o horror, pais freudianos o suficiente para poder escutar tudo, eu digo tudo, o que eu tinha para contar” (p. 113). Eles a incentivaram a narrar o indescritível e anotá-lo. Lembremos que na sociedade do pós-guerra – como testemunhou, entre outros, Primo Levi[4] – o silêncio é o que prevalece. Não foi essa a experiência de Anne-Lise em seu retorno:
Reemergir disso, dos campos, de ter contado tudo a eles, foram necessários longos anos de psicanálise. Mas é também isso – e minha chance no próprio campo, minha relativamente pouca deportação em relação aos outros – que possibilitou que eu me fizesse analista, apesar/por causa do campo. […] Não poder falar disso pelo fato de não ser escutada, isso eu conheci muito mais tarde e, infelizmente, sobre tudo na comunidade psicanalítica. (Stern, 2004, p. 113)
Anne-Lise Stern integrou a chamada “terceira geração”, condição que ela compartilhou, entre outros, com Jean Laplanche e Serge Leclaire. Essa é a única menção registrada no Dicionário de Psicanálise de Roudinesco e Plon, no artigo dedicado a Leclaire: não há uma entrada específica dedicada a ela. A biografia de Lacan, da mesma autora, recolhe apenas dois magros comentários de passagem, embora Anne-Lise tivesse trabalhado durante anos em serviços hospitalares dirigidos por Jenny Aubry, produzido textos sobre sua clínica a partir da perspectiva do ensino de Lacan – de quem foi analisanda – e participado de publicações e debates amplamente divulgados na imprensa. Na Batalha dos Cem Anos (Roudinesco, 1993), é mencionada apenas como aquela que teve a iniciativa de reunir Daniel Cohn-Bendit com Lacan (p. 81), por sua participação nas jornadas sobre psicose organizadas por Maud Mannoni em 1967 (p. 123) e por sua interpelação a Althusser em um dos encontros tempestuosos, do início dos anos 80, depois da carta de Lacan de dissolução da Escola Freudiana de Paris (EFP) (p. 269).
Ela tampouco é citada em trabalhos dedicados aos horrores do século XX. Seu livro, Le savoir-deporté (Stern, 2004), é desconhecido por psicanalistas latino-americanos (comunicação pessoal) como Maren e Marcelo Viñar, Daniel Gil e Mariano Horenstein, que analisaram a Shoá e suas consequências no Ocidente, embora ela mesma, aos 22 anos, tenha sido vítima e testemunha dos campos de extermínio, e que Pierre Vidal-Naquet afirme que seus textos alcançam “o topo da literatura concentracionária”.
Tanto silêncio e esquecimento em torno a ela me intrigam. Como não a descobrimos ao ler Primo Levi, Semprún, Antelme…?
Seus textos e intervenções orais nos congressos de L’École Freudienne de Paris levam a marca, diz Catherine Millot (2004), de um duplo compromisso militante. “Anne-Lise recordava incansavelmente que os campos (como se dizia nesse momento, antes de começarmos a dizer Shoá) ocupavam um lugar central no mal estar, não para dizer infelicidade do nosso tempo” (par. 2). Millot reconhece que por muito tempo resistiu à interpelação de Anna-Lise, e que não era a única:
Ninguém a escutava […] No que me diz respeito, era muito difícil escutá-la. Me esgotava. O real é o impossível de suportar, dizia Lacan. […] a insistência de um real tomando na palavra de Anne-Lise a forma da obsessão. (par. 3)[5]
Em 1979, em resposta à ofensiva negacionista dos crimes do nazismo, cujo principal porta-voz na França é Robert Faurisson, Anne-Lise abre um seminário:
Em 1979-1980 vimos os negacionistas subirem à cena pública. Como deportada que sou, em seguida pedi ajuda a meus colegas psicanalistas. Mas eles não entendiam a urgência. Lacan já se estava indo [alude à sua doença; ele morreu em setembro de 1981] e os outros não viram que um cadeado, um cadeado ético, estava prestes a ser estourado. Agora todos nós sabemos o que foi engolido por essa brecha. (Stern, 2004, p. 109)
Anne-Lise acredita que esse seminário é um “ato público, não apenas um acting out” (p. 265).
Detenho-me nessa formulação concisa porque me parece profundamente analítica, e condensa o que pretendo transmitir neste texto: Anne-Lise, como psicanalista, intervém na pólis (“ato público”), cria um espaço onde se fala “exatamente o que a comunidade de psicanalistas, em seu conjunto, exclui” (p. 268), desenvolve um trabalho de “investigação-testemunho” que põe a memória em jogo, tanto o que é censurado ou omitido quanto seus usos e abusos. Ao mesmo tempo, como psicanalista, não perde de vista a relação com o inconsciente, com a pulsão e a expressão em ato do que, nela mesma, insiste e “o que não cessa de não se escrever” (Lacan). Dizer “não somente acting out” é uma legitimação dessa dimensão e, por sua vez, é resgatar-se da submissão, tão frequente entre nós, analistas, à psicopatologização do ato[6].
Helena Besserman Vianna também foi solicitada a permanecer em silêncio. Seu livro é intitulado Não conte a ninguém… (1994).
Em seu texto em homenagem a Horacio Echegoyen, René Major (2017) evoca a qualidade de “homem de princípios” do ex-presidente do IPA (1995-1999).
Nos termos de Anne-Lise, Echegoyen fez “estourar o cadeado” do silêncio. Nesse caso, um silêncio relacionado a graves violações da ética, tanto na prática quanto na transmissão da psicanálise. Desde 1973, foi justamente o silêncio das instituições que constituiu o amparo ao presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, Leão Cabernite e a Amilcar Lobo, analista didata e analisando, respectivamente. Analisando que era, ao mesmo tempo, membro de uma equipe de tortura como oficial da reserva do Exército. Helena é aquela que, nesse contexto de quebra da legalidade instituída pela ditadura brasileira, tem a coragem de falar, de pedir ajuda, enfrentando a negação coletiva[7]. Sua coragem pessoal não bastava, exigia um compromisso institucional para enfrentar o mal, que, a partir de fora, do terrorismo de Estado, havia se infiltrado na formação dos analistas. Mas o imperativo institucional (Calmon et al., 1999, p. 15) exige silêncio, “silêncio mistificador mantido por quase uma década pelas sociedades psicanalíticas do Rio de Janeiro e pela IPA” (Besserman Vianna, 1994, p. 21). .
O problema a ser discutido, tanto naquele então como agora, e que “se deve continuar a discutir é a posição das sociedades psicanalíticas diante da tortura e da ditadura, para que, finalmente, todos saibamos por que uma sociedade psicanalítica se submete ao irracional” (Besserman Vianna, 1994, p. 20). Tema sempre vigente e que não pode ser evitado, considerando-o como uma “briga de cariocas”, como acertadamente aponta Miguel Calmon na entrevista citada (Calmon et al., 1999, p. 12) .
Pelo contrário, diz respeito a todos nós, a cada analista e a cada sociedade psicanalítica. Voltar ao “caso carioca” é um modo de promover a análise da instituição de pertencimento e a exploração e o questionamento das defesas coletivas.
Um deles é o recurso à exclusão recíproca entre política e psicanálise, que para Helena é “dupla linguagem cotidiana e esquizofrenizante” (Calmon et al., 1999, p. 15). Aí se desqualificam ações e textos que resgatam a psicanálise da bolha na qual se quer enclausurá-la, como se essa clausura não constituísse, em si mesma, um ato político.
Essa exclusão recíproca também é do que padece Anne-Lise quando tenta o “passe” na L’école Freudienne em 1971: um membro do júri baseia a recusa dizendo que “haviam ouvido sobre política, não sobre psicanálise”, como se a sua história como mulher e como psicanalista pudesse separar-se de sua história como judia e deportada, como se pudesse separar-se da de seus pais e da História.
Helena Besserman correu sérios riscos e sofreu humilhações das sociedades que invocavam a “causa” da instituição. Esse outro recurso, a desculpa da sua preservação, tem uma longa história, como sustenta Roudinesco (2014/2015):
A política de pretenso “salvamento” da psicanálise, orquestrada por Jones e apoiada por Freud, verificou-se um completo fracasso, que se traduzirá, na Alemanha como em toda a Europa, por uma colaboração pura e simples com o nazismo, mas sobretudo na dissolução de todas as instituições freudianas e pela imigração, para o mundo anglófono, da quase totalidade de seus representantes. Se tal política não tivesse sido adotada, isso não teria mudado em nada o destino do freudismo na Alemanha, mas a honra da IPA teria sido preservada. E, sobretudo, essa desastrosa atitude de neutralidade, de não engajamento, de apolitismo, não teria se repetido posteriormente sob outras ditaduras, como no Brasil, na Argentina e em outras partes do mundo. (p. 414)[8]
Essa pré-história – mesmo que seja desconhecida para nós – nos habita e nos detém. Mesmo quando os ataques à ética nos golpeiem a face, o medo de ser considerado moralista ou caçador de bruxas paralisa a reação.
Em situações de normalidade, não se trata do risco de integridade pessoal ou institucional, mas o cuidado da instituição é, às vezes, a racionalização do cuidado do feudo, do poder de quem prega e exerce tal cuidado, recorrendo a qualquer tipo de práticas.
Quer se trate de um fim ou de outro, este justifica os meios. Alguém toma o lugar de um “superior iluminado”, a quem se delega a faculdade de pensar, e se impõe a “ética do funcionário” (Gil, 1999, p. 11), rebanhos acéfalos que “andam na linha”, mas são anulados em sua capacidade de análise e juízo para discernir o bem do mal em cada situação. Virtualidade sempre presente da tendência humana à “servidão voluntária”, brilhantemente indicada pelo jovem Etienne de la Boétie em 1576.
Desde os primeiros agrupamentos a partir de Freud, um lúcido Ferenczi (citado por Roudinesco, 2014/2015) dizia:
Conheço bem a patologia das associações e sei como, muitas vezes, nos grupos políticos sociais e científicos, reinam a megalomania pueril, a vaidade, o respeito às fórmulas ocas, a obediência cega, o interesse pessoal em lugar de um trabalho consciencioso, consagrado ao bem comum. (p. 138)[9]
Outra força paralisante
vem de elaborações afetadas por tais acessos de sutileza, tais arabescos
retóricos – uma espécie de sibarismo intelectual – que nos levam a considerar
os assuntos da pólis desde as alturas
de uma asséptica arrogância.
[*] Trabalho vencedor do Prêmio Psicanálise e Liberdade – Fepal.
[**] Asociación Psicoanalítica del Uruguay.
[1] Miguel de Unamuno.
[2] “ce trou noir, cet anus mundi” (a tradução do francês e do português é pessoal em todos os casos).
[3] N.T.: Tradução de S. C. Neto. A tradução corresponde a Levi, P. (2013). Se isto é um homem. Alfragide: Dom Quixote. (Trabalho original publicado em 1958).
[4] Somente em 1963, após a publicação de seu segundo livro, A Trégua, é que Primo Levi consegue ampla audiência, bem como reconhecimento para seu primeiro livro, escrito em 1945.
[5] N.T.: Tradução livre.
[6] Esse seminário, realizado durante mais de 30 anos sob o título de “Campos, história, psicanálise: seu enlaçamento na atualidade europeia”, será reconhecido desde 1992 pela Maison des sciences de l´homme
[7] A Clínica da família de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, leva o nome de Helena como homenagem à sua luta pela ética na psicanálise e por sua participação, juntamente com seu marido, o Dr. Luiz Guilherme Vianna, em movimentos contra a ditadura militar. Por seu compromisso com a redemocratização do Brasil, Helena recebeu a medalha Chico Mendes.
[8] N.T.: Tradução de André Telles. A tradução corresponde a Roudinesco, E. (2016) Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. (p. 434) Zahar, RJ
[9] N.T.: Tradução de André Telles. A tradução corresponde a Roudinesco, E. (2016) Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. (p. 145) Zahar, RJ